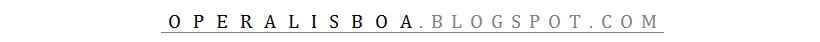No próximo sábado,
realizar-se-á na sala principal do Teatro Nacional de São Carlos um concerto de
fados. Pisarão o palco—onde cantaram as mais seleccionadas vozes da arte
lírica desde o século XVIII—Carminho, Mafalda Arnauth, Camané e Carlos do
Carmo. Sem ter a certeza completa desta afirmação, o P.Z. ouviu dizer que a
única noite de fados ocorrida em S. Carlos foi conduzida pela Amália, em tempos
menos amargos para o teatro, quando havia pateadas só porque sim. Desde “O Morcego”
de 2010, o P.Z. não assistiu a uma verdadeira pateada, embora até há bem poucos
dias alguém tenha comentado por aqui que o Trovador pedia para “patear
ferozmente”. A maior e mais recente, antes do referido “Morcego”, foi em
plena “Salome”, quando Herodíade passava a ferro durante a “dança dos
sete véus”. A questão recente é que o público está tão cansado, que nem energia
para patear tem. Dizia alguém recentemente na blogosfera que até os aplausos estão
cada vez mais cansados—o que é verdade.
Na primeira metade do ano,
a ópera planeada em S. Carlos resumiu-se a uma espécie de festival de Verdi com
duas produções muito controversas e um nível musical fraco. Nos blogs, há
rumores de que Rui Massena pode ser o próximo director artístico do teatro
(o-que-é-isto?!). No sábado, haverá um concerto de fados com a orquestra
sinfónica portuguesa, acompanhando algumas das figuras mais mediáticas do Fado
de hoje—um estilo mais turístico do que português, se apenas estes fadistas se
considerarem. Mafalda Arnauth tem voz
perfeita para fados, mas desde que lançou a sua carreira tem-se desviado do
fado. Carminho, com a sua aura de jovem estrela de estúdio, raramente põe os pés numa
casa de fados sem microfones; até aceitou cantar ao lado de José Carreras e Ailyn
Pérez no nojento Pavilhão Atlântico, mas recusou acompanhar o “brindisi”,
tal é o seu respeito pela pureza do fado (que pelos vistos não existe?!). Se
Carlos do Carmo cantar sem microfone, o P.Z. acrescentará na sua descrição que,
em tempos livres, é a carochinha. Quanto a Camané, basta indagar se tem postura
para uma sala de ópera.
Amália foi a verdadeira
fadista que ao povo pertencia e cuja arte era património da humanidade. O P.Z.
não pode prever o futuro, mas o conceito do concerto em si é ofensivo! Quer a
gestão da cultura transformar S. Carlos no Royal Albert Hall, onde passam todos:
desde rap a ópera? Primeiro, seria mandatório garantir a qualidade da ópera; e depois poderia haver a lata de apresentar “fadistas de CD” e cinemas no teatro nacional de ópera. Fica um repto aos leitores-espectadores: não encorajem
este tipo de iniciativas, recusando-se a ver o espectáculo deste sábado, porque indo, estarão a promover a criação do Coliseu dos Recreios de São Carlos em Lisboa. Muito provavelmente, os artistas referidos acabarão por ler este texto. Não devem vê-lo como um
insulto: antes como um texto de um amante de ópera (e sim, também de
noites de fado) muito entristecido. Para estes artistas (tal como para Rui Massena), actuar em S.
Carlos é um convite único e, por isso, a não recusar. Percebam que o P.Z. pensa
que não o deveriam aceitar por um motivo simbólico e não pessoal.
Opine: Concordo/Discordo.
Edit: 17 maio 2013
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/428443_10151604022052980_1323603112_n.jpg
Vergonhoso!