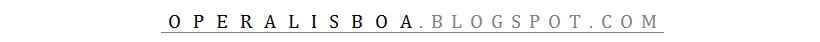Do encenador Graham Vick, os espectadores mais atentos esperariam certamente uma reinterpretação do clássico histórico. A saga sangrenta dos seis casamentos de Henrique VIII: vira o disco e toca o mesmo, para os standards de Vick. (Entretanto, outro estadista americano perturba meio mundo e arredores depois de não-menos-pitorescas histórias de divórcio, originando uma controversa possibilidade de actualização da ópera.) A encenação desta Ana Bolena provém de Verona; conta com figurinos históricos mas pauta-se pela reutilização exaustiva dos mesmos recursos cénicos. A cama no acto I; o punhal e a cara vendada no acto II; as paredes palaciais transparentes e a plataforma no palco—nenhum destes recursos é original e, com a excepção da cama, do punhal e da cara vendada, não aparentam ter qualquer significado. A própria dialética entre o vermelho (o sangue) e o negro (o ambiente fúnebre) está evidente mas é tornada redundante pela cena da caça, a iluminação de Giuseppe Di Iorio e as vestes de época de Henrique VIII. Não é possível dissecar a encenação devido a esta ser um vazio conceptual. Apreciá-la em virtude somente estética ou histórica também não é possível, porquanto a estética não é harmoniosa nem o falhado simbolismo se coaduna com uma leitura simplesmente histórica.
As escassas interpretações que não as de Callas, Beverly Sills e Joan Sutherland caíram no esquecimento. Mais recentemente, Anna Netrebko e Sondra Radvanosky deliciaram a Metropolitan Opera com as suas interpretações; o tempo definirá os seus lugares na história. A Ana de Elena Moșuc não ficará, garantidamente, para a história. A voz da soprano não é mais do que banal e não serviu a coloratura do papel. Ao longo da récita, Moșuc serviu-se de toda uma gama de artifícios para escapar aos malabarismos vocais. Se uma Ana Bolena consegue passar através dos pingos da chuva no acto I, então as árias finais são a prova final: as belíssimas Al dolci guidami e Coppia iniqua! foram um sofrimento de ouvir. Este é um exemplo de que gritar e suster as notas agudas não é uma boa prática, independentemente de se ter uma carreira solidamente estabelecida. No final, houve alguma pateada mas muitos mais foram os gritos de entusiasmo: uma irónica demonstração do novo público que S. Carlos anda a formar. Acredito que tenha sido um dia de azar para Moșuc.
Fica estabelecido, na minha opinião, que o vazio da encenação e o desempenho da intérprete principal implicam que esta Ana Bolena não possa ser considerada um bom espectáculo. O coro teve um desempenho surpreendentemente fraco e a orquestra esteve em linha com o expectável, dirigida por um barulhento e conspícuo Giampaolo Bisanti. O Henrique VIII de Burak Bilgili é impositivo e impertinente; o baixo tem um timbre que não é inteiramente apreciável à luz do bel canto mas produz um efeito curioso no contexto dramático. Jenniffer Holloway, como Seymour, destacou-se pela sua hábil técnica vocal, recordando por vezes Joyce DiDonato. Ofereceu um retrato expressivo e cheio de compaixão da personagem: sem sombra de dúvida um nome a reter. Como Percy, Leonardo Cortellazzi apresentou a sua voz de tenor com sensibilidade e emoção. O seu claro “à vontade” com o papel também o destacou do restante elenco.
É pertinente, pela primeira vez neste blog, salientar a consistente excelência vocal do tenor Marco Alves dos Santos. O cantor apresenta-se frequentemente em S. Carlos em papéis de comprimario. O seu Hervey foi assertivo e destacado, embora o papel seja breve e não requeira emotividade. Pela primeira vez neste blog, parece também pertinente notar que, como excelente artista que é, Luís Rodrigues não é one-fits-all. A voz do barítono, diga-se o que se disser, não é bonita e está longe de verdes anos. A grande expressividade de Luís Rodrigues permite-lhe interpretar com credibilidade papéis como Sulpice (La Fille) ou o barítono no Cappello, mas não o peso dramático do Lord Rochefort. Este pequeno acidente de casting acaba por ser pouco relevante mas levanta preocupações sobre a programação em S. Carlos: o que é que Luís Rodrigues vai fazer como Kurwenal no Tristão e Isolda do próximo mês? (Os wagnerianos compreenderão o problema.) A sugestão que deixa é que se avizinha outra Ana Bolena: iremos novamente comprar o Ferrari sem ter dinheiro para a gasolina? Claramente, apresentar uma Ana Bolena sem recursos apropriados foi um capricho infantil equiparável a comprar um Ferrari sem ter recursos para o manter. Ou isso, ou este "funeral em dois actos" foi o produto de um grande azar.
★★☆☆☆
A seguir: Repensando o Tristão e Isolda (crónica)
Leia também: Tristão e Isolda no CCB (crítica), Carmen em S. Carlos (crítica)