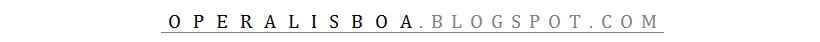Se a Turandot exibida ontem no Coliseu correspondeu às minhas expectativas sobre os artistas, achei-a também um gigante falhanço logístico. Quem poderia imaginar que uma pequena “semi-encenação” resultaria na escala do Coliseu? Quem poderia no seu perfeito juízo acreditar que pôr o coro nas galerias laterais (i.e., fora do palco) poderia criar um efeito sonoro discreto? Quem poderia acreditar que desvirtuar o uso do palco em virtude de conquistar espaço à plateia não iria derrubar a quarta parede? Não me refiro à encenação – mas à organização logística. Não é possível desfrutar de uma ópera quando o coro canta pela direita, o tenor pela frente e a soprano ao fundo do palco. Este falhanço foi absolutamente gritante e, imediatamente, condição suficiente para que o espectáculo não fosse apreciável. É de facto uma pena, dado que o nível vocal pareceu bom; infelizmente, nem isso é credível dado o desequilíbrio da posição dos cantores na sala. A bom rigor, a irracionalidade da gestão logística aproximou a ópera a um espectáculo de variedades – talvez isso tenha sido do agrado dos “novos públicos” que o director artístico Patrick Dickie pretende atrair. Porém, numa nota menos irónica, aproveito para expor aquilo que os media não querem (ou não sabem) informar: “conquistar novos públicos” no Coliseu é, na verdade, um eufemismo para “poupar dinheiro em récitas”, encaixando a facturação de cinco noites pelo preço de duas. O custo foi logístico, acústico e ultimamente uma perda artística em nome de uma infantilidade organizacional.
A semi-encenação de Annabel Arden não consegue repor a quarta parede e é essencialmente superficial nos actos I e II mas culmina com algumas actualizações relevantes no acto final. Turandot é uma ópera difícil de encenar por dois motivos: (1) tradicionalmente, requer grandiosidade e fidelidade à estética chinesa ou, (2) alternativamente, requer que a encenadora preencha as lacunas da ópera. O primeiro problema não foi posto simplesmente porque Arden segue uma estética intemporal e flexível, mas põe-se o segundo problema. A verdade é que Turandot tem uma história bizarra: aborda a escravatura, o amor, o excesso de trabalho, a irresponsabilidade familiar, a violência, o egocentrismo, a tirania e até o assédio sexual. Como por magia, a música de Puccini faz esquecer a disfuncionalidade do enredo da obra. Porém, se os românticos motivos orquestrados por Puccini não forem correspondidos pela estética da encenação, a encenadora tem o dever de explicar visualmente porque é que os heróis são uma tirana maníaca caprichosa, um irresponsável ganancioso e uma escrava sem vontade própria. Arden tenta minimizar a imagem ridiculamente complacente de Liù: é Liù que indica a Calàf a resposta ao terceiro enigma. (Mas em que medida é que viciar um concurso promove a imagem da heroína?) Com a liberação de Calàf por Liù, o trono de Turandot é abalado. Há uma cadeira no centro do palco que representa este abalo, mas não percebemos se esta é uma metáfora superficial ou uma alusão à efectiva perda de poder da tirana. Afinal de contas, a presença constante do povo tem uma voz e um pensamento, eventualmente capaz de destituir a inconsistente princesa de gelo. O coro do teatro de S. Carlos cantou em tempo e coordenação, embora eu não tenha conseguido apreciar minimamente as numerosas intervenções devido ao ensurdecedor volume na minha posição da sala.
A orquestra teve uma sonoridade elegante, sob direcção do maestro Domenico Longo. Embora seja uma distracção, ver a orquestra permite notar alguns detalhes musicais – sobretudo entre os violinos. Foi interessante notar como algumas melodias orientais simplicíssimas são transformadas em autênticos momentos dramáticos e perfeitamente conjugados com as vozes. No acto III, durante “Tanto amore” de Liù, os pianíssimos de Dora Rodrigues fundiram-se em perfeição com o primeiro violino, num momento comovedor. O timbre da voz de Dora Rodrigues não recorda o aveludado de uma Liù típica. Contudo, a soprano oferece um retrato intimista e convencional da personagem apesar do twist adicionado pela encenação no acto II. Alden procurou também reformular o retrato dos ministros Ping, Pang e Pong, mas acaba sendo completamente inconsequente e despropositada. Este trio, por Alden retratado como palhaços, é o verdadeiro herói da ópera: um grupo de trabalhadores dedicados, inconformados com a tirania de Turandot (“o mondo, pieno di pazzi”) e discretos subversores do sistema (“pazzo, va’ via”). Fiquei surpreendido quando os ministros abriram a sua pasta magisterial... donde tiram chávenas de chá! A banalização de Ping, Pang e Pong foi gratuita e injusta. Diogo Oliveira, Sérgio Martins e João Pedro Cabral desempenharam superiormente as partes vocais dos ministros. Após a morte de Liù, um dos ministros revela-se desapontado como quem lastima o próprio trabalho – mas as reacções dos ministros foram ambíguas e pareceram mal ensaiadas. O imperador de Carlos Guilherme foi convencionalmente estático e praticamente inaudível.
Fernando Rojas tem claramente um grande à-vontade com o papel mas deixou-me a impressão de que cantou uma coisa mas foi obrigado a representar outra. O retrato vocal é confiante e heróico com agudos firmes e vibrantes; a encenação aponta para um Calàf diferente. Cenicamente, este é um Calàf mais humano – uma personagem que considera a possibilidade de estar a agir irresponsavelmente, como por exemplo quando assiste ao suicídio de Liù. A pujante interpretação do “Nessun dorma” valeu-lhe uma grande ovação; fiquei satisfeito por o maestro não ter interrompido a música como vi da última vez que vi uma Turandot. A Turandot de Elisabete Matos foi devidamente imponente, louca e humana. O seu “In questa reggia” mantém-se algo unidireccional e hipnótico, com algumas dificuldades no registo agudo (“quel grido”). Uma das críticas que têm sido apresentadas à sua Turandot é o seu retrato estereotipado, superficial e inconsequentemente gelado. Essa abordagem pode ser interessante de um ponto de vista teatral mas desinteressante numa escala mais intelectual. Contudo – suspeito que por sugestão da encenadora – Matos adaptou a sua interpretação do acto III. Em vez do conceito tradicional, onde a princesa se apaixona repentinamente por Calàf depois de ele a assediar sexualmente (romanticamente retratado por um beijo), esta Turandot viaja emocionalmente desde que assiste à morte de Liù. Vendo a morte da escrava, a princesa apercebe-se de como a sua tirania caprichosa afecta a vida dos outros: o beijo de Calàf deixa de ser assédio e é agora um acto mútuo de redenção.
A questão logística não ajudou Matos, abafando por vezes a sua voz e causando até uns momentos embaraçosos. A cena final recordou o final de Tristão e Isolda na temporada passada, com os noivos sentados lado a lado, complacentes à opinião do povo omnipresente. Teremos assistido ao fim da tirania narcisística de Turandot? Liù reaparece, recordando o preço da resistência à tirania. A encenadora conseguiu abordar ad-hoc algumas das fragilidades de Turandot, como a confrangedora fraqueza de carácter de Liù, a histeria da princesa e a confiança irresponsavelmente infantil de Calàf. Normalmente, estas fragilidades costumam ser mascaradas por produções românticas hiper-realistas – mas já percebemos que não havia dinheiro para isso. Recorreu-se antes a uma semi-encenação visivelmente low cost e sem grande força intelectual. Enfim, regressando à gritante questão logística, achei esta Turandot um desperdício redundante, comparável a misturar vinho com malaguetas. Não percebo porque não se utilizou o palco para criar um efeito sonoro mais homogéneo que privilegiasse os profissionais envolvidos no espectáculo e a audição do público. Quem organizou esta logística esteve a divertir-se e não a servir a ópera nem a audiência. Se outra pessoa brincasse tão abertamente com dinheiros públicos, seria julgada em tribunal. Mas como os brincalhões são artistas, a música é diferente.
★★☆☆☆
Leia também: Nova Temporada do Teatro de São Carlos: 2017-18